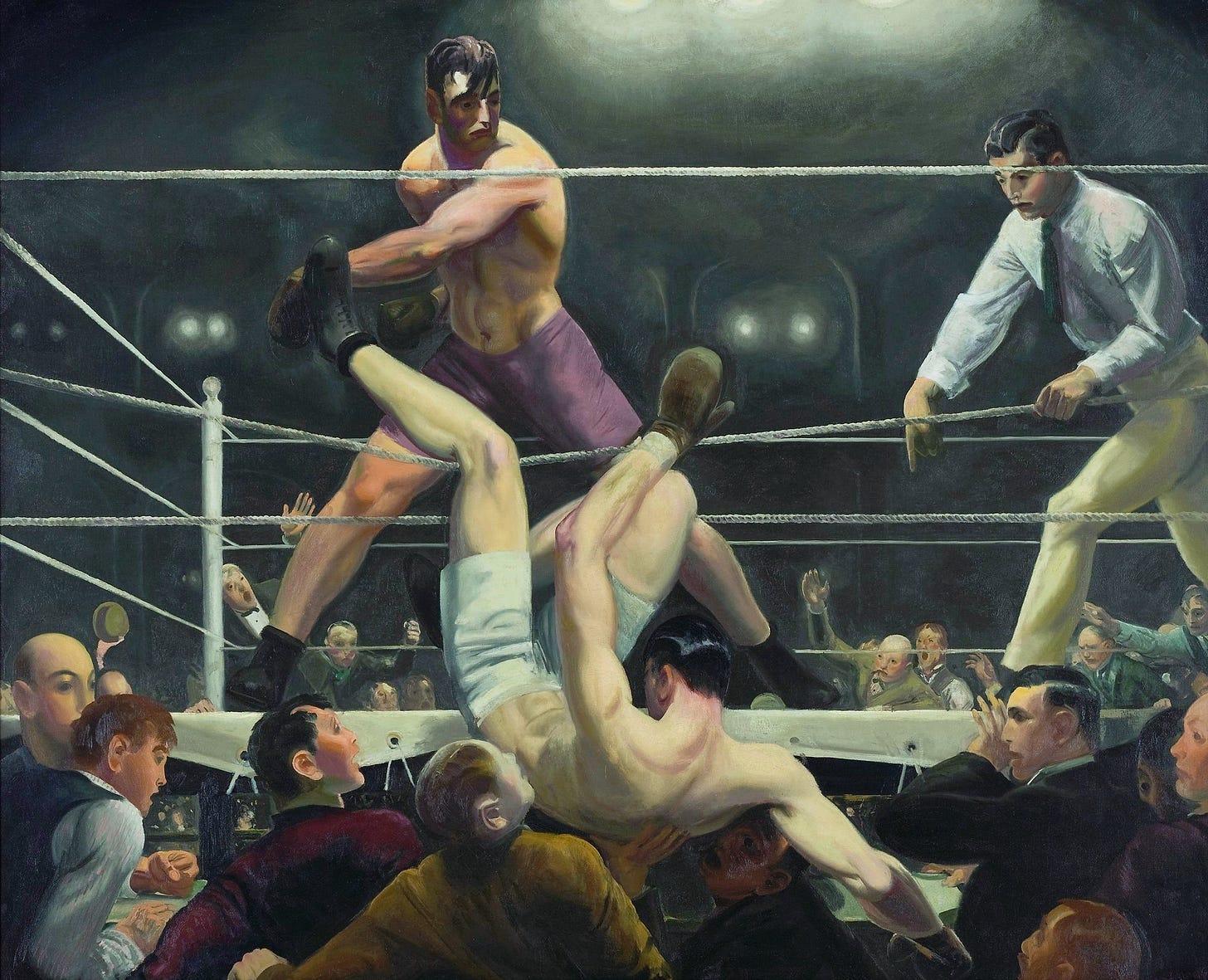O subtexto normativo dos estudos sobre polarização política
Discurso corrente sobre polarização exalta política desprovida de valores e completamente apartada da vida vivida.
Há algumas semanas, participei do VIII Encontro de Teoria Política e Pensamento Político Brasileiro, realizado na USP, em mesa com vários colegas. Apresento aqui uma transcrição da minha fala.
Nos últimos anos, a temática da polarização política se tornou uma verdadeira febre. Os estudos acadêmicos se contam literalmente às centenas de milhares – uma consulta no Google Scholar com a expressão “political polarization” retornou cerca de 235 mil títulos publicados de 2016 em diante. A postura predominante é considerar a polarização um fenômeno deplorável, uma patologia a ser combatida, ainda que não se saiba muito bem como. Entre as lideranças políticas, mesmo entre aquelas que são em geral consideradas responsáveis pelo problema, o discurso muitas vezes é similar. Assim, no Brasil, a anistia aos golpistas que queriam impedir a vitória, depois a posse, e por fim derrubar o presidente Lula é defendida como medida necessária para a pacificação do país, isto é, para a despolarização.
O debate sobre polarização, no entanto, não vem de hoje. Uma onda de publicações sobre o tema começou nos anos 1990, nos Estados Unidos, acompanhando o processo pelo qual ultraconservadores ganharam espaço no Partido Republicano. Esta literatura inicial é mais matizada, discutindo até que ponto a polarização é real. Duas distinções principais organizam o debate: polarização ideológica versus polarização afetiva e polarização das elites versus polarização do público.
As pesquisas da Ciência Política estadunidense sobre polarização – que, por seu peso na disciplina, tiveram influência sobre o mundo todo, incluindo o Brasil – apresentam uma clara evolução. O que antes era visto de forma quase universal como um falso fenômeno, uma percepção equivocada sobre uma pretensa mudança em atitudes e valores, passa depois a ser aceito como um desafio central para a manutenção do regime democrático liberal.
A vitória de Donald Trump em 2016 muda a narrativa. Ao que parece, a escolha de um candidato tão desprovido das qualidades convencionalmente julgadas necessárias para o cargo, com um discurso tão extremado, só seria explicável com recurso à ideia de um eleitorado movido por sentimentos muito fortes de identidade de grupo e de aversão ao outro. Por diferentes caminhos, os estudos tomam a polarização não mais como algo a ser comprovado e eventualmente medido, mas como um fenômeno indiscutível a ser explicado.
Aparentemente, as técnicas de pesquisa utilizadas para medir os graus de polarização do eleitorado, como os questionários para estimar a adesão a valores e percepções políticas, não tinham sido eficazes e seus resultados foram desmentidos pela realidade. Mas não houve qualquer esforço de crítica ou revisão de procedimentos.
No Brasil tornara-se frequente o uso de “polarização” para se referir à concentração da disputa nacional entre PSDB e PT: um uso de caráter descritivo, baseado quase que integralmente nos resultados eleitorais. A Ciência Política brasileira só começou a efetivamente se debruçar sobre o tema da polarização das atitudes, com o esforço também de mensuração empírica de sua profundidade e de seu alcance, quando ocorreu o acirramento do conflito – depois das eleições presidenciais de 2014, com o anúncio do projeto de derrubada da presidente Dilma Rousseff e, em especial, com a emergência do bolsonarismo como novo ator político central.
Ainda que a literatura continue privilegiando a linguagem da oposição entre petismo e antipetismo, há uma mudança na natureza desta discórdia. Em vez da simpatia ou antipatia por um partido e suas lideranças, que levava a dicotomias restritas ao campo político (honesto/corrupto, com princípios/oportunista, sensato/radical etc.), haveria um embate entre cosmovisões inconciliáveis – em linhas gerais, secularismo, assistencialismo, estatismo e progressismo à esquerda, contra religiosidade acentuada, meritocracia, livre mercado e conservadorismo à direita.
Mas quando se fala em “polarização política”, há a sobreposição entre uma percepção descritiva e outra, muitas vezes tácita, normativa. Arbatli e Rosenberg a explicitam já no começo de artigo publicado na revista Democratization, quando registram que a polarização política “fere a democracia. Ela levou ao colapso de democracias eleitorais na Turquia e na Venezuela”. Ao demonizar os opositores, a polarização legitima o uso de medidas de exceção por parte dos detentores do poder. Embora o raciocínio seja dotado de lógica, ele simplifica os processos complexos pelos quais as salvaguardas liberais foram destruídas e a competição partidária foi sufocada, em menor ou maior medida, em tantos países que continuam contando formalmente com a legitimação eleitoral para seus governos – como os casos da Turquia e da Venezuela, aliás bastante díspares entre si, demonstram.
É razoável pensar que uma ordem democrática, qualquer que seja a forma pela qual ela é compreendida, exige um grau de respeito pelos adversários. Afinal, como escreveram Claude Lefort e Michel Gauchet, o “gesto inaugural sobre o qual se funda o regime democrático consiste no reconhecimento da legitimidade do conflito na sociedade”. Se o conflito é legítimo, cabe a cada agente aceitar a existência de quem discorda dele. Isso não significa, no entanto, que as questões políticas não possam ser vivenciadas de forma intensa, apaixonada, nem que todos os conflitos sejam igualmente legítimos. Em grande parte da literatura sobre polarização, há um subtexto normativo que se opõe a estas conclusões.
O livro de Felipe Nunes e Thomas Traumann, Biografia do abismo, que analisa a polarização política no Brasil, serve de bom exemplo. Os autores promovem uma triangulação conceitual algo ousada, em que caracterizam o “populismo” como colocando “o centro do debate no âmbito moral”, ao mesmo tempo em que a contaminação da política por valores morais é a causa da polarização. Em paralelo, eles adaptam a ideia de “calcificação” da disputa política. Enquanto na literatura anglófona a calcificação identifica a menor possibilidade de que um eleitor vote em um candidato que não fosse de seu partido de predileção, para o Brasil ela passa a sinalizar o fato de que a escolha política se transformou “em parte da identidade de cada eleitor”.
Por que isso seria tão ruim? Nunes e Traumann trabalham com uma oposição entre a política feita de “escolhas racionais” por parte eleitores e outra em que se infiltram “valores”, implicitamente apresentados como a porta de entrada para a irracionalidade. Para citar um trecho significativo, entre muitos outros: a eleição de 2022 “não foi uma eleição de programas, propostas e comparações de governos. Foi uma disputa entre duas visões de mundo, lideradas por duas personalidades polarizantes e com dois eleitorados que não suportavam a existência um do outro”. Ou então: “O fato é que, na opinião dos eleitores de Lula, Bolsonaro ou outros candidatos, os valores equivalem em importância ao bem-estar social na tomada de decisão sobre o voto”.
Mas cabe perguntar: é possível separar valores de bem-estar social? Não existe escolha política que não seja, no fim das contas, informada por valores. O que não quer dizer que as questões de fato não sejam importantes; não se trata de escolher uma ou outra. Como apontou Hanna Pitkin, cada decisão política incorpora tanto julgamentos factuais quanto juízos de valor. Caso contrário, estamos reduzindo a política à administração do mundo existente, retirando dela a possibilidade de definir um projeto diferente de sociedade.
O que ocorreu, no Brasil como em outros lugares do mundo, foi que agentes políticos viram uma janela de oportunidade para romper com os consensos aparentes sobre valores societários básicos. A chamada “polarização” é o crescimento destas posições. A ruptura poderia ter ocorrido à esquerda, caso estivéssemos numa situação pré-revolucionária, com a radicalização das exigências de igualdade, mas concretamente ocorreu no sentido inverso, à direita.
A profundidade desta fratura, que significa que um contingente expressivo de pessoas mostrou-se disposto a abraçar ideais que apontam para a subordinação ou eliminação de outros grupos (o racismo, a misoginia, a homofobia, o discurso meritocrático e a negação das formas elementares da solidariedade social), explica o porquê do rompimento de relações de amizade ou familiares, sem que ele cause arrependimento posterior, detalhe julgado “chocante” por Nunes e Traumann. Para os autores, seria uma intolerância de parte a parte, mais um efeito nocivo da presença de valores na política.
Isto significa que as escolhas políticas deveriam ser consideradas irrelevantes para a apreciação das pessoas, como se não afetassem umas às outras e nada dissessem sobre quem são. É um adensamento gigantesco da fronteira entre uma esfera pública e outra privada, que são colocadas como virtualmente incomunicáveis entre si. Com primazia implícita da esfera privada: tanto melhor quanto mais as pessoas se desinteressam da política, o que reduz o potencial de conflito – e, de quebra, permite que os mais preparados decidam sem muita interferência. Parece que voltamos ao liberalismo novecentista de Benjamin Constant, com sua defesa do predomínio do privado sobre o público, ou, então, à velha celebração da apatia das massas, que fazia com que Lipset, por exemplo, julgasse que uma alta abstenção eleitoral significava uma boa saúde da democracia.
A ideia de que a ruptura pessoal por motivos políticos é necessariamente indefensável também deve ser contestada. Uma velha tirada diz que se um nazista se senta à mesa com dez pessoas e ninguém se levanta, então há 11 nazistas. O que se está registrando é que uma determinada visão política – o nazismo – é tão incompatível com valores fundamentais na existência de qualquer pessoa decente que o convívio com quem a abraça já representaria um tipo de cumplicidade. Os estudos sobre polarização afetiva, na linha assumida por Nunes e Traumann, indicam uma visão diferente. Levantar-se da mesa para não confraternizar com o nazista seria uma demonstração de intolerância a ser deplorada.
É estabelecida uma falsa equivalência, como se fascismo e antifascismo ou racismo e antirracismo fossem dois lados da mesma moeda. Ainda que reconheçam a agressividade do bolsonarismo, os autores muitas vezes embarcam nesse jogo de colocar os opostos como simétricos, como se Lula chamando seu antecessor de “genocida”, “golpista”, “gângster” e “titica” fosse comparável com ameaçar matar os adversários políticos. A visão normativa asséptica da política, que quer limpá-la de valores e torná-la carente de qualquer impacto na vida vivida, serve também para a normalização do extremismo. Por isso, predomina a noção de que a polarização é nefasta em si mesma, simplesmente por existir, sem que se dê ao trabalho de averiguar as circunstâncias em que ela ocorre. Enquanto seria necessário produzir um cordão sanitário para isolar a extrema-direita, marcando sua incompatibilidade com os valores fundamentais da ordem democrática, esta leitura tanto dilui as responsabilidades quanto nega legitimidade ao sentimento de todos os que se percebem ameaçados e ultrajados com práticas e discursos que negam seu direito à existência.
É como se a democracia, reduzida a seu momento concorrencial, se sustentasse por um consenso exclusivamente procedimental, sem qualquer referência a valores éticos e morais de base. Mas mesmo a teoria liberal que melhor sustentou a ideia de “neutralidade em relação às concepções de bem”, que tanto influenciou a Ciência Política que se afirma isenta diante dos conflitos sociais, a teoria da justiça de John Rawls, está ancorada em um sistema de valores preciso, cujo fundamento é a igualdade. A neutralidade é sempre balizada por um consenso implícito; quando ele se rompe, como tem ocorrido com o avanço da extrema-direita, tentar mantê-la é mesmo uma forma de cumplicidade.
Durante muito tempo, a Ciência Política operou como se pudesse viver em um vazio valorativo. Essa démarche era possível porque seu horizonte normativo implícito – a democracia – parecia consensual. Defender a democracia não era algo que singularizasse uma posição, porque todos a defendiam. É claro que, com isso, o modelo concorrencial vigente no Ocidente era contrabandeado como se fosse a verdadeira encarnação da democracia. Mas os cientistas políticos podiam continuar acreditando em sua própria neutralidade valorativa.
Quando este aparente consenso foi desestabilizado, a Ciência Política precisou tomar posição. Os best sellers da disciplina, publicados a partir do momento em que a crise da democracia se tornou oficialmente o tema do momento, não escondem seu caráter normativo – e as obras de uma segunda leva, com projetos para “salvar a democracia” (como no título brasileiro de Levitsky e Ziblatt), assumem essa postura de forma ainda mais veemente.
Os estudos sobre polarização permanecem presas da tentação da neutralidade, postulando uma simetria entre os dois lados e colocando toda a manifestação de repulsa por uma determinada posição política no mesmo saco da incivilidade. Com isso, a questão parece ser apenas como reduzir o nível de conflito político.
Não há dúvida de que manter o conflito em níveis administráveis é uma tarefa indispensável na gestão de qualquer comunidade humana. E que buscar a produção de barganhas aceitáveis entre grupos com interesses divergentes faz parte da ideia de um jogo político decente. Quando estão na arena grupos cujo projeto é a destruição de elementos basilares de nosso arcabouço civilizatório, porém, essa sabedoria convencional se mostra inútil. A questão não é reduzir o nível de conflito entre, digamos, quem propõe que os mais pobres sejam deixados para morrer de fome e quem defende políticas que assegurem sua vida, ou chegar a um meio-termo entre quem nega o colapso climático e quem reconhece o conhecimento científico sobre ele, ou ainda buscar a produção de consensos entre defensores e opositores da vacinação contra doenças contagiosas. Tal como os fascismos da primeira metade do século XX, com os quais guarda tantas afinidades, a nova extrema-direita precisa ser detida.
O comportamento de lideranças como Trump, Bolsonaro, Milei e tantas outras deixa claro que a busca por trocas argumentativas racionais, nos moldes da velhas teorias deliberativas, é inútil. O que a literatura deplora como sendo a polarização é também o fato de que fomos arremessados no espaço da política maquiaveliana em estado puro, sem o verniz que a ordem democrática liberal impunha a ela. Não se trata de gostar ou desgostar da nova situação, mas de reconhecê-la como o fato que é e agir de acordo com esse reconhecimento.