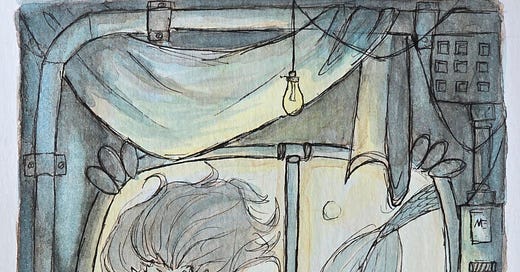Precisamos da “lista negra” de palavras?
O veto a palavras e expressões, em geral com base em etimologias fantasiosas, virou o esporte de uma esquerda autofágica.
Uma das coisas que mais me irritam, no admirável mundo novo da cirandagem, é a polícia vocabular.
Volta e meia, alguém inventa de lançar uma lista de palavras vetadas, julgando estar dando uma contribuição à luta antirracista, anticapacitista ou o que for. Lembro da defensoria pública baiana, que interditou de “criado-mudo” a “escravo”.
O veto a “criado-mudo” tem base numa etimologia sem pé nem cabeça, inventada numa campanha publicitária, remetendo a uma história absurda.
Já a palavra “escravo” essencializaria a condição do cativo, sendo necessária substituí-la por “escravizado”. Mas aqui se revela uma compreensão bizarra do funcionamento da linguagem.
É uma espécie de cartesianismo linguístico, similar ao de quem quer abolir “risco de vida”, porque o risco é morrer, ou “gol de bola parada”, porque a bola precisa estar em movimento para entrar no gol. Como se falantes e ouvintes não fossem capazes de construir, pelo uso, o sentido das expressões.
O linguista Sérgio Rodrigues chama isso de…